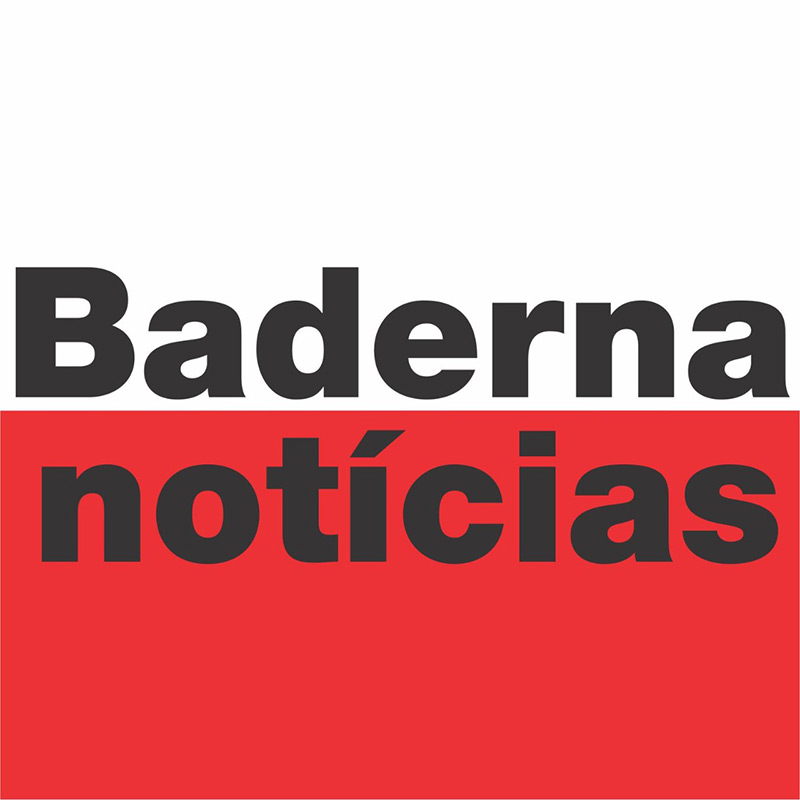Primo Levi e Varlam Chalámov - DUAS VISÕES DO MAL
Por André Nigri

No romance Elizabeth Costello, algumas dúvidas assaltam o pensamento dessa fascinante personagem de Coetzee na véspera de sua palestra sobre o mal em Amsterdã: como a plateia daquela civilizada cidade europeia reagirá à fala dessa velha e prestigiada escritora australiana sobre a natureza do mal?
Quando recebeu o convite, ela lia uma novela sobre o malogrado atentado contra Hitler tramado por altos oficiais alemães em 1944: The Very Rich Hours of Count von Stauffenberg. Essa ficção, escrita por um inglês chamado Paul West em 1980, não apenas não lhe saía da cabeça como causava-lhe uma sensação doentia, sobretudo, nas pormenorizadas cenas da execução dos conspiradores. Ela considera essas cenas inefáveis e o relato do enforcamento simplesmente obsceno. É com esse substantivo que ela pretende conduzir seu discurso como se o tivesse nas mãos a protegê-la como um talismã, principalmente quando descobre que Paul West está sentado na plateia, pois ele também é um dos convidados do ciclo de conferências. Coetzee/Costello: “Para salvar nossa humanidade, certas coisas que podemos querer ver (podemos querer ver porque somos humanos!) devem se manter fora de cena.” O livro não deveria ter sido escrito, ela diz; e uma vez escrito e publicado, não deveria ser lido. “O que eu questiono é que temos de nos precaver contra os horrores que o senhor descreve em seu livro… Podemos nos colocar em risco pelo que escrevemos.”
É plausível presumir que essas questões tenham sido revolvidas quando Primo Levi (1919-1987) e Varlam Clalámov (1907-1982) sentaram-se para escrever sobre suas experiências com o mal. Ambos foram vítimas de dois grandes processos de eliminação humana no século passado, processos que ocorreram simultaneamente: o lager nazista (Levi) e o gulag soviético (Chalámov). Como eles se saíram? Seus testemunhos literários lidos hoje causam repulsa? Se pudéssemos não os teríamos lido, sob pena de contrair uma infecção para cuja cura não há nem haverá remédio algum? Ou a pergunta a ser respondida é outra: por que essas obras integram o corpus da alta literatura do século 20 e o que as torna tão distintas do repelente e morfético romance do hoje esquecido Paul West? Essas questões pressupõem que os discursos narrativos sejam distintos em cada caso, como penso que sejam. Levi e Chalámov cada um tem sua poética, ainda que a experiência dos dois pareça uma mesma e terrível massa indistinta de crueldade e sofrimento.
Primo Levi tinha 24 anos quando foi detido com um grupo de jovens rebeldes guerrilheiros nas montanhas do Piemonte no dia 13 de dezembro de 1943. Era um jovem químico formado poucos dias antes das restrições impostas pelo governo fascista proibindo a presença de judeus nas universidades italianas. Em fins de janeiro do ano seguinte foi enviado a um campo de concentração em Fóssoli. Havia ali cerca de 600 judeus italianos. Um mês mais tarde todos foram deportados para Auschwitz na Polônia. Das 45 pessoas que se confinavam no vagão onde Levi viajou, apenas quatro voltaram para casa, e seu vagão, ele conta, foi o mais afortunado. Do dia gelado em que transpôs o portal do lager, cuja inscrição se tornaria sinistramente célebre – ARBEIT MACHT FREI (O trabalho liberta), ao dia 28 de janeiro de 1945, quando ele e um companheiro carregavam o cadáver de um hälfting (prisioneiro) pela neve e avistaram os primeiros soldados do Exército Vermelho, Primo Levi sobreviveu a quase um ano no campo. Mas somente em outubro ele chegaria a Turim, onde, instalado na mesma casa paterna onde nascera e crescera, passou a escrever É Isto Um Homem?, publicado em 1947. Essa primeira edição passou quase despercebida, mas mereceu uma resenha elogiosa de Italo Calvino. Só uma década mais tarde, o livro, publicado dessa vez pela Eunadi, tornou-se um best seller. A explicação mais prosaica, mas não injustificada, era temporal: com as fogueiras da guerra ainda ardendo e o desvelamento dos campos de extermínio alemães, os italianos não estavam ainda preparados para enxergar sua participação, ainda que menor no contexto europeu mais amplo, no holocausto.
É Isto Um Homem? é dividido em 19 partes e é todo ele repassado por uma prosa refinada e equilibrada. Muito já se comentou da ausência de autocomiseração e de sentimentalismo, e isso é de fato duas de suas virtudes. Mas o mais notável nesta obra é seu lirismo apesar de não ser essa a intenção manifesta do autor.
Como fica claro no prefácio, este livro “nada acrescenta quanto a detalhes atrozes ao que já é bem conhecido dos leitores de todo o mundo com referência ao tema doloroso dos campos de extermínio” – podemos imaginar aqui “obras” como as de Paul West. Na esteira do sucesso de É Isto Um Homem?, Levi declarou em inúmeras entrevistas que não era um escritor. Essa declaração foi revista por ele ao longo das décadas seguintes, sobretudo, depois de ter publicado A Trégua – onde relata a odisseia de seu repatriamento. Sua intenção era “fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma humana”. Ou melhor, sua experiência era semelhante à de um biólogo examinando uma colônia de seres humanos diferentes quanto à cultura, origem, língua e costumes confinados em um asfixiante ambiente e sujeitos às mesmas leis. Todas essas intenções parecem satisfatoriamente cumpridas, mas se fosse apenas um relatório de química como ele pretendia que fosse, o livro perderia rapidamente a validade como obra literária e se tornaria “apenas” um documento importante.
É isto Um Homem?, no entanto, é obra de um artista. É no capitulo 13, O canto de Ulisses, que esse artista floresce com maior exuberância.
Levi, hälfting 174.517 (número tatuado no braço), e outros três prisioneiros estão raspando as paredes internas de uma cisterna: um deles está fumando (o que é proibido) e outro dorme (o que também é proibido). Todos aproveitam a ausência de vigilância, quando de repente percebem a aproximação de alguém e se colocam rapidamente a raspar as chapas de ferro. Mas quem chega é um companheiro. Embora esse prisioneiro tenha um cargo de comando, ele é boa praça, bem-humorado e solidário. Os quatro param de trabalhar e o enchem de perguntas, perguntas absolutamente disparatadas – eles estão em um lager ao lado das grandes chaminés onde cremam diariamente os judeus!: “Que sopa tem hoje? Qual é o humor dos kapos? Como está o tempo lá fora? Leu o jornal? Que horas são?”
Depois Levi e Jean (este é o nome daquele companheiro com um subcargo de chefia) caminham pelo campo. Jean, que é francês, quer aprender italiano. Então Levi começa a declamar versos da Divina Comédia a ele. Esses versos, escreve Levi, eram “como a voz de Deus. E por um momento esqueci quem sou e onde estou”.
Chalámov
Varlam Chalámov era filho de um padre ortodoxo que atuara como missionário em uma ilha no Pacífico. Em 1927, no aniversário da revolução, ele se alinhou a um grupo da faculdade de direito, em Moscou, onde estava matriculado, e participou de uma manifestação na qual se pedia a saída de Stálin. Nesse período frequentou círculos vanguardistas e publicou poemas, mas em 1929 é detido e condenado a três anos de trabalhos “corretivos”, cumpridos nos Urais. Solto, casa-se, tem uma filha e começa a trabalhar como jornalista em associações sindicais. Em 1936, publica sua primeira obra no periódico Outubro, o conto chamado As Três Mortes do doutor Austino. Em janeiro do ano seguinte, é preso novamente, enquadrado no artigo 58 (relativo a crimes políticos por atividades contrarrevolucionária). Ao todo, desde sua libertação, passou dezessete anos na Sibéria, trabalhando em minas e convivendo com milhares de outros presos políticos e comuns.
Como escreveu o historiador britânico Tony Judt, a sentença típica num gulag era de 25 anos, geralmente seguida (para os sobreviventes) de exílio na Sibéria ou na Ásia Central. Na época – entre 1953 e 1956 – em que Chalámov é posto em liberdade, cerca de 5 milhões de prisioneiros foram libertados.
Ao voltar finalmente para Moscou, ele começa a escrever sobre as experiências e histórias vividas e ouvidas no campo. Essa atividade estende-se até 1973, quando coloca um ponto final no imenso ciclo de textos a que denomina Contos de Kolimá – região siberiana onde ele cumpriu a maior parte de sua pena. Alguns desses contos são publicados no exterior – ao que consta nenhum deles circulou como edição clandestina (samizdat) até o fim do regime na segunda metade dos anos 80. Chalámov foi primeiro colocado em um asilo e, quando seu estado mental de saúde deu visíveis sinais de piora, internado num hospital psiquiátrico onde morreu a 14 de janeiro de 1982. As edições de suas obras na Rússia e nas línguas culturalmente mais importantes do ocidente consagraram seu autor – no Brasil a editora 34 publicou todos os seis volumes dos contos em ótimas traduções e com um indispensável glossário, além de um texto esclarecedor da escritora Irina Sirotínskaia, testamenteira do espólio de Chalámov.
Estamos diante de um espírito contraditório. A despeito ou por causa do empenho que chega a ser fanático nos seus propósitos, Chalámov rejeitava toda a tradição literária russa do século 19: “A experiência da literatura humanista russa resultou, diante dos meus olhos, nas sangrentas execuções do século 20.” E ele então revela sua fé: “Escrevo para alguém que, apoiando-se em minha prosa alheia à mentira, possa contar sua própria vida, num outro plano.” Qual plano? Ele não diz.
O precedente literário dos contos de Clalámov é o Dostoiévski da Recordações da Casa dos Mortos, e ele é tema de comentátios em alguns trechos. Chalámov observa que seu autor só teve compaixão por seus companheiros de exílio na Sibéria porque eles não eram criminosos comuns. “Dostoiévski não encontrou nem conheceu representantes do verdadeiro mundo do crime.” Uma frase passível de contestação.
Os 33 contos do primeiro volume mostram um narrador fugidio, esquivo, que ora aparece na primeira pessoa, ora está oculto; e é difícil acreditar no registro fiel, ou na literatura “da verdade” que seu autor reivindicava como a única literatura legítima para o futuro.
A história de Serafim é de uma beleza e humanismo que remetem diretamente ao melhor de Tchékhov, com seu phátos repassado de um melancólico humor. Os contos A cadela Tamara e Stlánik são banhado daquele mesmo antropormofismo tão caro a Tolstói.
Chalámov dizia-se ligado esteticamente às vanguardas russas do início do século passado; mas ao mesmo tempo chegou a ser punido por considerar Ivan Búnin o maior escritor de seu tempo; justo Búnin, herdeiro direto do realismo de Tolstói!
Uma nota biográfica talvez ajude na aproximação dessas contradições: Chalámov teve uma infância religiosa com a forte presença do pai/padre missionário em casa. Uma vez esse filho que trocou a religião ortodoxa pela crença marxista declarou ser um hilota, uma escravo de Esparta! Uma vez Sirotinskáia perguntou ao escritor como é possível viver. Ele respondeu: “Com os dez mandamentos. Tudo está dito ali.”
É muito mais comum do que se imagina que artistas, como Levi e Chalámov, sejam fracos quando se debruçam teoricamente sobre suas obras.
Contos de Kolimá, 6 volumes; editora 34
Literatura
André Nigri
Jornalista, crítico literário e leitor compulsivo